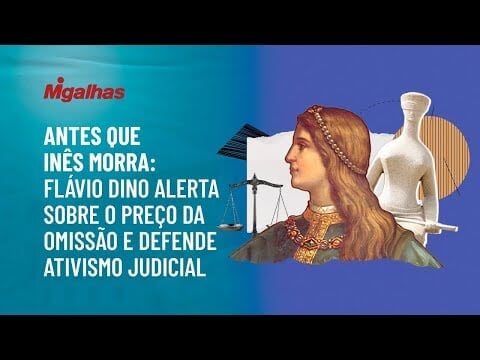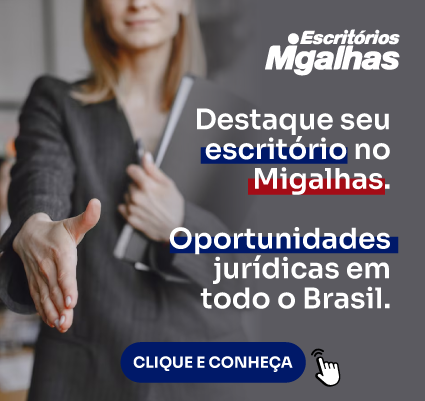Antes que Inês morra: Ativismo judicial pode ser antídoto contra omissão
Diante de inércia ou dissonância entre Poderes, silêncio não é opção para o Judiciário quando provocado.
Da Redação
quinta-feira, 10 de julho de 2025
Atualizado às 15:49
A história ensina que há tragédias que se repetem não por força do destino, mas por conveniência da omissão. Recentemente, ao proferir palestra, ministro Flávio Dino retomou a velha máxima portuguesa "agora é tarde, Inês é morta" para refletir sobre os rumos da democracia e do Judiciário.
A fala não foi um mero exercício poético, mas uma advertência, e um recado para que a omissão não desencadeie arrependimentos e leve a sociedade a "chorar sob o túmulo de Inês".
Inês é, metaforicamente, a democracia liberal representativa, filha da modernidade e dos pactos constitucionais que tentaram organizar o poder, limitar a violência e promover a dignidade humana.
Ela nasceu com promessas grandiosas - direitos, justiça, igualdade - e sobreviveu às intempéries da história. Mas hoje, cambaleia. Não apenas pelos ataques diretos, mas pela crescente incapacidade de entregar aquilo que prometeu.
Veja a fala:
A história de Inês
Para entender os limites da atuação do Judiciário, é necessário voltar ao século XIV, ao epitáfio das mais dramáticas histórias da monarquia portuguesa.
A tragédia de Inês de Castro, ocorrida no século XIV, inspira poetas, dramaturgos e juristas até hoje como símbolo da irreversibilidade da injustiça quando a ação chega tarde demais.
Inês era uma dama galega da nobreza que se apaixonou por D. Pedro, o então príncipe herdeiro do trono português. Apesar do casamento político de Pedro com Constança Manuel, o amor por Inês persistiu, e, após a morte da esposa, os dois passaram a viver juntos, com filhos e vida familiar.
Mas a Corte não via com bons olhos essa união. A influência da família de Inês, ligada à nobreza castelhana, despertava temores políticos. O pai de Pedro, o rei D. Afonso IV, temendo pela estabilidade do reino, ordenou em 1355 a execução sumária de Inês, enquanto Pedro estava fora.
Ao retornar e descobrir o assassinato, Pedro teria jurado vingança. Quando se tornou rei, prendeu e mandou executar os responsáveis. E, segundo a lenda, amplamente divulgada e imortalizada por Camões e outros autores, Pedro mandou exumar o corpo de Inês, vesti-la com trajes reais, coroá-la rainha post-mortem e forçar a Corte a beijar-lhe a mão em sinal de reverência.
A imagem é brutal: o amor reconhecido quando já não há mais vida, a justiça feita tardiamente, a reparação que não ressuscita.
Ao resgatar essa metáfora, Flávio Dino sugeriu que o Judiciário, e a sociedade, não devem esperar até que a democracia, os direitos e a civilidade estejam mortos para louvá-los solenemente. A defesa tem de ser em vida.
O risco da ausência
Como Pedro, que se ausentou quando Inês mais precisava, o Judiciário corre o risco de se omitir em momentos decisivos.
O erro de Pedro, recordou Dino, foi duplo: subestimar a maldade e abandonar o amor ao silêncio da distância. Transferida à política contemporânea, a lição é clara: subestimar as ameaças à democracia e se omitir diante delas pode custar caro.
A crítica aqui não é apenas lírica, é estrutural. Há uma crise material que atravessa o Ocidente e põe em xeque os fundamentos do pacto democrático.
Jovens que não terão as mesmas oportunidades que seus pais. Direitos sociais convertidos em "gastos" passíveis de cortes. Instituições vistas como obstáculos e não como promotoras da justiça.
"Esse aparato institucional que nós jurídicos concebemos não tem conseguido entregar os bens da vida", disse o ministro. A desesperança vira terreno fértil para o autoritarismo.
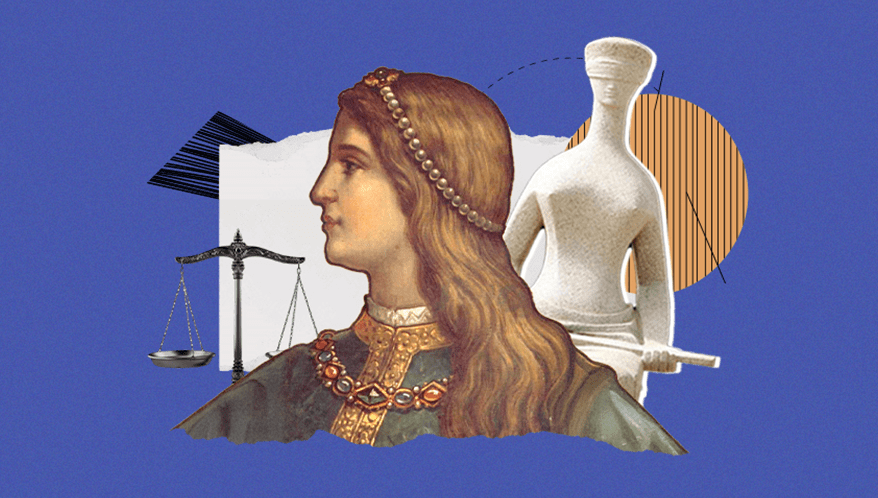
A era da escravização algorítmica
Um dos trechos mais densos da fala de Dino trata da nova forma de dominação: a escravização pelo algoritmo. O discurso da liberdade, ironicamente, se converte em prisão. A indústria tecnológica, a mais lucrativa da história da humanidade, prospera desmontando instituições, capturando afetos, monetizando o ódio e dissolvendo vínculos sociais.
Essa lógica hiperindividualista exige desorganizar a vida em sociedade para reorganizá-la segundo os interesses das plataformas. A velha ágora desaparece. A nova ágora digital, argumentou Dino, é ainda mais excludente e opressora que a grega - e, paradoxalmente, menos visível.
Se o mundo se organiza em torno de bolhas, influenciadores e impulsos virais, o papel do Judiciário precisa ser o de reafirmar o espaço comum, público e racional da política e da Justiça.
O Judiciário diante da encruzilhada
Flávio Dino apresentou o que considera os principais desafios do Judiciário nos próximos anos. São alertas que merecem ser levados a sério, para que a história não registre a omissão como covardia ou comodismo:
1. Crise de legitimidade judicial
A judicialização da política, inevitável em tempos de paralisia decisória e polarização, exige um Judiciário que saiba agir com firmeza, mas prestar contas à sociedade.
O desafio será manter a legitimidade em decisões altamente sensíveis, que envolvem desde políticas migratórias até a revisão de emendas constitucionais. Como ponderar técnica, responsabilidade institucional e sensibilidade democrática?
2. Equilíbrio entre ativismo e autocontenção
A dicotomia entre ativismo e autocontenção não pode ser lida como antagonismo.
Dino propõe uma equação prática: autocontenção como regra, ativismo como exceção justificada. E justificada por quê? Por valores irrenunciáveis.
Há situações, como a proteção de crianças nas redes, em que esperar o legislador é permitir o dano. Mas há também limites que o Judiciário não deve ultrapassar. Saber onde atuar e onde recuar será o maior teste de maturidade institucional.
3. Demanda crescente por protagonismo
A incapacidade das instâncias políticas de resolver conflitos complexos, como a crise fiscal, a reforma tributária ou o marco civil da internet, acaba empurrando tudo para o Judiciário.
O Supremo, transformado na "instância de última esperança", se vê sobrecarregado com demandas que exigiriam deliberação coletiva e responsabilidade social. O desafio é resistir à tentação de se tornar árbitro universal, sem abandonar o papel de garantidor dos direitos e da ordem constitucional.
4. Restauração dos vínculos civis e sociais
O Judiciário também deve se comprometer com a reconstrução da civilidade, da ideia de comunidade, da esperança em um futuro compartilhado. A defesa do constitucionalismo social - com direitos trabalhistas, previdência, dignidade do hipossuficiente - não é ideologia: é fundamento civilizatório. Ignorá-lo é abandonar os mais frágeis à lei da selva.
Covardia ou coragem?
Se a democracia é, como disse Dino, a Musa inalcançável, resta saber se seremos capazes de defendê-la antes de precisar exumá-la.
Porque o Judiciário - e a sociedade com ele - terá de responder: será Pedro que amou, mas falhou? Ou será aquele que esteve presente na hora certa?
"Não larguemos a mão de Inês", concluiu o ministro. A metáfora final é clara: os que verdadeiramente amam a democracia devem se manter ao lado dela, mesmo diante do risco, mesmo sob ameaça, mesmo em minoria.
O ativismo judicial, quando bem fundamentado, não é desvio, é resistência. É resposta proporcional à destruição simbólica e material da democracia. Mas não basta julgar com técnica. Será preciso julgar com coragem, com compromisso histórico e com sensibilidade institucional.
Porque, como nos ensina a história portuguesa, há amores que só ganham coroas após a morte. Mas que, ainda assim, nunca mais voltam a viver.